As Nações Unidas reconhecem 195 países no mundo. Desses, cerca de 20 se organizam no formato de federação. O Brasil é um deles — e o único em que, além da União e dos Estados, os Municípios também são considerados entes federados. Mas o que isso tem a ver com a educação?
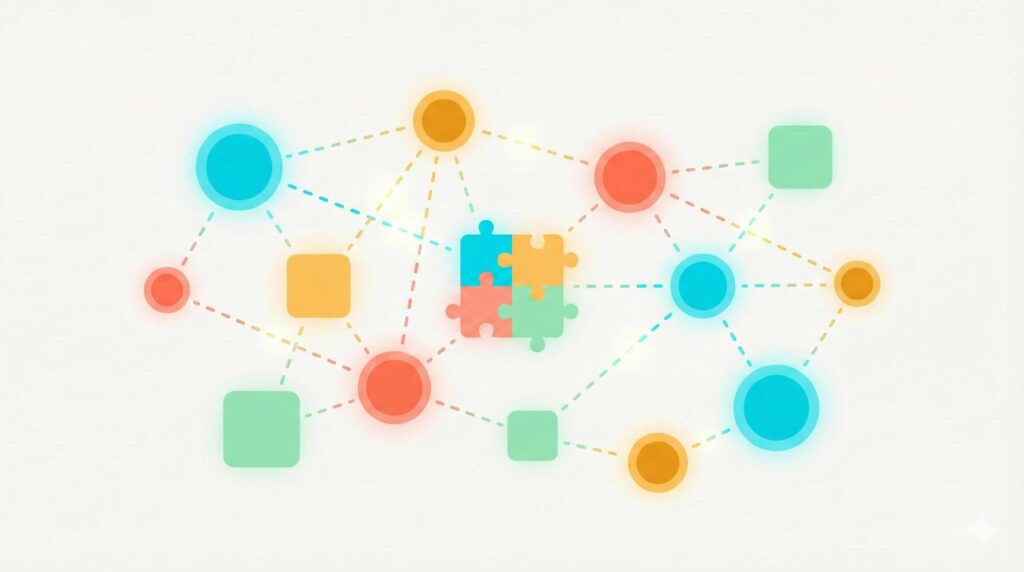
Na primeira coluna publicada neste espaço, indicamos que entre os fatores que contribuem para o sucesso do processo educacional está a gestão, que se dá em três níveis: a gestão de uma escola; a gestão de uma rede de escolas (como uma rede municipal ou estadual de ensino); e a gestão de um sistema de ensino, que envolve redes e escolas públicas e privadas, abrangendo diferentes etapas da educação — educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e ensino superior.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, o Brasil possui três tipos de sistemas de ensino: o sistema federal, os sistemas estaduais e os sistemas municipais.
O sistema federal é composto pelo Ministério da Educação (MEC), pelas instituições federais e privadas de ensino superior, pelas instituições federais de ensino técnico e pelo Colégio Pedro II — que oferta educação infantil, ensino fundamental e médio no Rio de Janeiro — além do Conselho Nacional de Educação, órgão normativo do sistema.
Já os sistemas estaduais são compostos pelas secretarias estaduais da educação, pelas instituições estaduais e municipais de ensino superior, pelas instituições estaduais e privadas de ensino fundamental, médio e técnico, e pelas instituições estaduais de educação infantil, tendo o Conselho Estadual de Educação como órgão normativo.
Por fim, os sistemas municipais abrangem as instituições municipais de ensino fundamental e médio, além das instituições municipais e privadas de educação infantil, podendo contar com um Conselho Municipal de Educação como órgão normativo.
Ficou claro quem é responsável pelo ensino fundamental, médio ou superior na educação brasileira? Como se pode ver, a organização da educação é complexa — e isso se deve, em grande parte, ao fato de o Brasil ser um Estado federativo, em que cada ente federado possui certo grau de autonomia para atuar dentro de seu território.
Complexidade torna gestão da educação dependente de colaboração
Essa complexidade, somada às grandes diferenças socioeconômicas e regionais, torna a gestão da educação brasileira fortemente dependente da colaboração entre os diferentes sistemas, para que o processo educacional assegure a todos os estudantes condições adequadas de acesso e aprendizagem, independentemente do local onde tenham nascido.
Ao longo dos anos, esse regime de colaboração tem evoluído. Podem ser citados como exemplos o estabelecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Lei do Fundeb e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), sobre o qual tratamos na última coluna. Além disso, a colaboração entre União, Estados e Municípios tem papel essencial para evitar sobreposição de ofertas de instituições de ensino do mesmo nível, garantindo o uso racional dos recursos públicos. Um exemplo disso ocorre quando, em uma mesma região, escolas estaduais e municipais disputam os mesmos alunos do ensino fundamental.
O problema é que esse regime de colaboração depende, sobretudo, da visão e da capacidade de diálogo dos gestores educacionais — condições que nem sempre se concretizam devido a divergências político-partidárias ou à falta de compreensão sistêmica da educação. Um dos maiores exemplos dessa fragilidade ocorreu durante a pandemia da COVID-19, quando houve pouca coordenação entre os diferentes sistemas para garantir o acesso dos estudantes à educação. Como consequência, as perdas de aprendizagem foram amplificadas.
Lei institucionaliza iniciativas que já ocorriam de forma pontual
A criação de um dispositivo legal para regulamentar a colaboração entre sistemas foi prevista na Lei do Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014, mas só agora se tornou realidade. Em 31 de outubro de 2025, foi sancionada pela Presidência da República a Lei que institui o Sistema Nacional de Educação (SNE), estabelecendo normas para a cooperação entre União, Estados e Municípios na elaboração e implementação de políticas, programas e ações educacionais, em regime de colaboração.
Além de reiterar os papéis de coordenação de cada ente federado junto aos respectivos sistemas de ensino, a Lei do SNE define um conjunto de ações voltadas à integração das esferas federativas na governança da educação nacional.
Uma das principais novidades da lei é a criação de instâncias de pactuação do SNE, com o objetivo de articular ações educacionais que exijam a participação harmoniosa dos diferentes atores dos sistemas educacionais em seus territórios. Na prática, a lei institucionaliza iniciativas que já ocorriam de forma pontual, como grupos de trabalho sobre temas específicos — transporte escolar, alimentação escolar, avaliações e oferta educacional — reunindo diferentes esferas de governo para otimizar o uso de recursos e estruturas.
O desafio é que, até então, a falta de institucionalização impedia que essas iniciativas se consolidassem como políticas de Estado. Assim, a cada troca de gestores, as ações colaborativas voltavam à estaca zero.
Embora a institucionalização dos espaços de colaboração seja um avanço importante, é preciso cuidado para que a implementação da lei não crie entraves a boas iniciativas, em razão da dificuldade de se alcançar consensos dentro dessas comissões.
Além dos aspectos de governança, a Lei do SNE também regulamenta temas como planejamento, padrões de qualidade, financiamento e avaliação da educação nacional. Mas esses serão assuntos para outras oportunidades.
Até lá!









